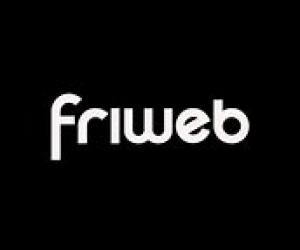Por: CARLOS ROSA MOREIRA
06/10/2024
12:40:02
UM DIA

...À tarde foi o desafio no futebol. O time da rua de cima contra o nosso, da rua de baixo. Eu era regra-três recuado, mas ia jogar. Bola Sete, o titular, estava de castigo em casa. Eram quatro jogadores na linha e um no gol. O jogo seria às quatro horas. Às três e meia puseram a courinho nº 5, esfregada com sebo de boi, no centro do campo, pousada sobre a terra. O gol do nosso time era defendido pelo longilíneo Beto Lambreta. Na defesa, o temido Samuel, por apelido “Hulk”. A cara de buldogue inglês e o físico avantajado faziam justiça ao apelido. No ataque o estrategista Vatinho e o craque entre todos os craques da rua, Paulinho, de quem os mais velhos costumavam dizer: “ele tem muito futebol”. E eu, com a função de “roubar a bola”. No time da rua de cima o goleiro César, o eficaz “back” Pirinho, dois irmãos de cujos nomes não me lembro e o meu xará Cacá, que tinha um canhão no pé direito. Em torno do campo, a torcida, composta de vários pais, de garotos das duas turmas e das meninas que davam gritinhos, principalmente quando Paulinho, por apelido “Ronnie Von”, pegava a bola. O juiz era seu José. Homem sério, que não dava moleza para ninguém.
Pontualmente, o jogo começou. No campo curto, cada chutaço era grande
possibilidade de gol. E tome gol lá e cá. Quando a partida estava 8x8, Hulk
xingou o juiz e foi expulso. Eles fizeram nove a oito. Vatinho, capitão do
time, tomou ousada decisão: tirou-me da linha, onde eu corria feito doido
bicando a bola pro mato e me mandou vestir a camisa preta do goleiro. Botou
Beto Lambreta no meu lugar na linha, pois ele tinha algum talento.
O jogo continuou. O tempo se esgotava. De vez
em quando seu José olhava o relógio. Eu tinha um medo que me pelava das
“bombas” de Cacá. E foi uma delas que veio logo em minha direção. Ele dava uma
espécie de corridinha no mesmo lugar e... bum! A courinho veio quente. E eu
abri os braços para defender. Ela passou entre os meus braços, mas não passou
pela minha cara. Defendi com a cara. Depois que as estrelas sumiram, ficou a
quentura e a impressão de que a cara ia e voltava. Com a minha “defesa”, a bola
repicou para o meio do campo. Paulinho pegou, deu um drible num dos irmãos e
com um toquezinho colocou no canto do gol, deixando o goleiro César “sem pai
nem mãe”. Nove a nove. Fizemos dez a nove. E, num chute indefensável que bateu
na trave e entrou, eles empataram.
Estávamos nos minutos finais. Aí aconteceu
de eles virem todos para cima. Bola traçando de pé em pé; defende aqui, chuta
dali e ela foi parar nos pés de Cacá. Ele deu aquela corridinha e mandou
chumbo. A courinho voou rente à poeira,
queimando a terra. Ia entrar no meu canto direito. Eu já estava a meio caminho
para mergulhar em direção a ela, quando Beto esticou a perna comprida e a
desviou com o pé. Ela passou a vir para o meu canto esquerdo. Não sei se foi a
fé em São Gilmar ou em São Marco Aurélio, pois pensava neles o tempo todo. Fiz
uma torção e, deslizando sobre a terra e me esfolando todo, consegui tocar na
danada com a pontinha do dedo médio; ela bateu na trave e sobrou para Paulinho.
Ele disparou. Passou para Vatinho na cara do gol. Não deu para o goleiro: a
bomba do capitão entrou a meia altura e afundou a rede.
Onze a
dez. Eles deram a saída e nosso time todo entrou na frente da bola. Em seguida
seu José apitou o fim do jogo. Correram para me abraçar. Vatinho me levantou e
bateram palmas. Meu corpo e minha cara ardiam, mas eu sorria. Então – oh,
glória!- o pai dos irmãos do time contrário bateu em meu ombro e disse:
─ Yashin,
o aranha-negra!
Naquela
noite, início das grandes férias de verão, foi o amor.
Durante todo o ano ela e eu nos
olhávamos e sorríamos um para o outro. Na rua diziam que éramos namorados.
Trocávamos cartinhas. As dela sempre muito coloridas, com florezinhas e
corações. Morávamos em frente um do outro. Às vezes, à noite, eu chegava na
varanda e ela me espionava pelas frestas da persiana da janela de sua sala. Ou
chegava no ‘hall” envidraçado dançando com uns trejeitos da Wanderléa.
No início
da noite eu desceria as montanhas para a temporada de férias na casa dos meus
avós. Mandei um bilhetinho para ela. Precisava vê-la antes de viajar. Acertamos
no quintal ao lado de sua casa. Fui muito ousado, mas estava todo embananado
sobre o que fazer na hora. Passei todo o tempo com o coração pulando.
Encontramo-nos ao lado de uma cerca de hibiscos. A luz do quintal batia
em cheio em seu rosto. Eu via seus olhos brilhantes, os cabelos em rabo de
cavalo e o permanente sorriso nos lábios, o que lhe dava leve ar de ironia. Ela
me olhava como se perguntasse. Eu olhava para ela e para baixo, arrastando o pé
no chão.
─ Eh...
Então
fixei seus olhos castanhos e pedi-lhe um beijo, pois eu ia viajar.
Durante
segundos ela parou de sorrir. E, fazendo um meneio com a cabeça, disse, já
sorrindo outra vez:
─ Só se
for no rosto!
Eu me
aproximei e beijei-lhe o rosto, no cantinho da boca, tocando seus lábios, perto
de uma pintinha. Olhei rapidamente seus olhos luminosos, um pouco repreensivos,
um pouco admirados da ousadia.
─ Tchau –
despedi-me.
─
Tchau...
Aí esqueci-me
de que ia viajar. Subi a rua, desci. Olhava o chão, em transe. Sorria. Percebia
os perfumes das plantas e as cores fantásticas da noite. Quem passou por mim não me viu, eu não estava
ali, estava no tempo das descobertas. Foi o chamado da minha mãe que acabou com
aquilo. Todos me aguardavam no carro.
Quando
meu pai chegou ao Soberbo fez o costumeiro sinal da cruz e começou a descer a
serra. Lá longe, as luzinhas do Rio piscavam para mim, nítidas no ar límpido. E
no céu, sobre as montanhas, junto às estrelas, aquele olhar dela, meio de
repreensão, meio de admiração. As férias, a moleza da casa dos meus avós, o
amor! Eu era um homem feliz! Então senti uma repentina ansiedade, seguida de
alegria: lembrei que minha avó me aguardava com um presente muito desejado: o
revolvinho de plástico igual ao de Peter Gun.